| FL | Farol das Letras |  |
|
|
| Início | | | Mapa do Sítio | | | Autor | |  |
|
|
|
Entende-se aqui por «Modernismo» um movimento estético, em que a literatura surge associada às artes plásticas e por elas influenciada, empreendido pela geração de Fernando Pessoa (n. 1888), M. Sá-Carneiro (n. 1890) e Almada Negreiros (n. 1893), em uníssono com a arte e a literatura mais avançadas na Europa, sem prejuízo, porém, da sua originalidade nacional. Trata-se, pois, de algo delimitado no tempo, algo sobre que temos já uma perspetiva histórica, embora seja lícito, não só descobrir-lhe precedentes na própria literatura portuguesa (sobretudo na geração de Eça de Queirós, autor das atrevidas Prosas Bárbaras e criador, com Antero, do poeta fictício, baudelairiano, Carlos Fradique Mendes; em Cesário Verde, em Eugénio de Castro, em Camilo Pessanha, em Patrício), mas ainda assinalar os seus prolongamentos até aos nossos dias, a sua ação decisiva na instauração entre nós do que consideramos agora a «modernidade». O modernismo assim definido tem consequências mais profundas que o simbolismo-decadentismo de 1890, a que os Espanhóis chamam «Modernismo»: implica uma nova conceção da literatura como linguagem, põe em causa as relações tradicionais entre autor e obra, suscita uma exploração mais ampla dos poderes e limites do Homem, no momento em que defronta um mundo em crise, ou a crise duma imagem congruente do Homem e do mundo. Foi por 1913, em Lisboa, que se
constituiu o núcleo do grupo modernista. Ao
invés dos movimentos literários anteriores (Simbolismo, Saudosismo), o
Modernismo seria basicamente lisboeta, apenas
com algumas adesões de Coimbra (o poeta e
ficcionista Albino de Meneses, etc.) e ecos
vagos noutros pontos da província. Pessoa e
Sá-carneiro haviam colaborado n' A Águia,
órgão do Saudosismo; mas
iam agora realizar-se em oposição a este,
desejosos como estavam de imprimir ao ambiente
literário português o tom europeu, audaz e
requintado, que faltava à poesia saudosista.
Nesse ano de 1913 escreveu Sá-Carneiro,
aplaudido pelo seu amigo F. Pessoa,
os poemas de Dispersão; ambos nutriam
o sonho duma revista, significativamente
intitulada Europa; F. Pessoa
dava início a uma escola efémera compondo o
poema «Paúis» (publicado em Renascença,
fevereiro de 1914); Pessoa e
Almada travavam relações, graças à primeira
exposição (de caricaturas) por este efetuada,
e criticada por aquele nas colunas d' A
Águia (cf. Páginas de Doutrina
Estética de F. Pessoa).
Em 1914 os nossos jovens modernistas,
estimulados pela aragem de atualidade vinda de
Paris com Sá-Carneiro e Santa-Rita Pintor,
adepto do futurismo,
faziam seu o projeto que Luís da Silva Ramos
(Luís de Montalvor) acabava de trazer No Orpheu, e
ainda noutras das revistas, vemos lado a lado
epígonos do Simbolismo e do
Decadentismo
que burilam, dolentes, visões de estranha
beleza nas suas torres de cristal (Montalvor,
Ronald de Carvalho e Eduardo Guimarães
denunciam a filiação em Mallarmé, cuja lição
seria apreendida mais livremente por F. Pessoa)
e fogosos introdutores das novas escolas.
Confluem o passado e o futuro. Mais ainda: ao tentarmos compreender esse espírito de geração, não devemos parar nos aspetos mais aparentes: a mistificação, a excentricidade; ou devemos procurar descobrir o sentido gravemente irónico que a própria simulação, o próprio jogo literário podiam ter, em Portugal como nos outros países. O momento era de crise aguda, de dissolução dum mundo de valores - dissolução que, aliás, continua a processar-se. Os artistas reagiam ao ceticismo total pela agressão, pelo sarcasmo, pelo exercício gratuito das energias individuais, pela sondagem, a um tempo lúcida e inquieta, das regiões virgens e indefinidas do inconsciente, ou então pela entrega à vertigem das sensações, à grandeza inumana das máquinas, das técnicas, da vida gregária nas cidades. Como notou Marcel Raymond, a propósito de Apollinaire (um dos autores influentes no nosso Modernismo, juntamente com Rimbaud e com Whitman), é no sentimento do real como ilusão que radica a atitude de troça do «mistificador» perante os outros e perante ele próprio; mistifica-se antes de mistificar. «Baudelaire via a mola real da mistificação em 'uma espécie de energia que brota do tédio e do devaneio', quer dizer, num momento em que a atenção se desvia do presente e as forças acumuladas no inconsciente irrompem na vida, comandando, já uma palavra absurda ou proibida, já uma ação insensata ou perigosa. O que procura obscuramente o mistificador é o aparecimento dum facto novo, anormal, arbitrário; só uma provocação feita diretamente à vida poderá contentá-lo; que esta seja forçada a responder por um acidente de consequências imprevisíveis, eis de que precisa o mistificador (De Baudelaire au Surréalisme, ed. 1952, p. 236). Num artigo intitulado «Da Geração Modernista» (in Presença, n.º 3), José Régio caracterizou em conjunto a literatura «moderna» portuguesa pela tendência para a dispersão ou multiplicidade da personalidade, por um misto de irracionalismo (abandono ao inconsciente, primitivismo, infantilidade) e intelectualismo (voluntariedade, lucidez crítica), e finalmente pela tendência para a transposição, «isto é, para a expressão paradoxal das emoções e dos sentimentos». Com efeito, o problema da unidade do eu (logo da sinceridade profunda, da compatibilidade entre ser sincero e exprimir-se), a busca duma personalidade radical que se escapa ou diversifica apresentam-se (de modo inteiramente novo, e com dramática acuidade) no Sá-Carneiro poeta e autor da Confissão de Lúcio; na obra de Fernando Pessoa, desdobrada em heterónimos, incluindo vários passos reflexivos; na obra de José Régio, em particular no Jogo da Cabra Cega; no Elói de João Gaspar Simões. É ainda, embora sob prisma diferente, o problema de Nome de Guerra de Almada-Negreiros onde o eu autêntico do protagonista consegue libertar-se do eu social, de convenção. O Modernismo encerra, pois, um humanismo; assume até um tom pedagógico de expressão aforística, inculca o deviens qui tu es gidiano, incita à plenitude individual (às vezes com acintoso despropósito, como na Explicação do Homem de Mário Saa). E desponta nele, intuitiva e precursoramente, o Sobrerrealismo, sobretudo em Sá-Carneiro, a par da visão do mundo como coisa absurda e sem suporte. Quer dizer: se na geração do Orpheu reconhecemos hoje aspectos caducos, por excessivamente fabricados ou datados, ela surge <aos nossos olhos como ponto de arranque em mais duma direção - começo duma nova época, liquidação de certas formas de pensar e de sentir (Óscar Lopes enumera, em Pentacórnio: o historicismo de punhos de renda, o sentimentalismo, a prosa rica, etc.). Agora, para cada um sua verdade: simultaneamente se admitem todas as aventuras estéticas, no jogo, ou no conflito, entre a inteligência e as forças vitais. O expressivo triunfou do belo tradicional. A criação libérrima (mesmo quando o artista enfrenta, isolando-os, problemas de forma, de construção) triunfou da imitação e do preceito. O surto romântico parece ter chegado aqui às suas últimas consequências. Ao ponto de se virar contra si próprio: a literatura (principalmente em Pessoa, mas também em Almada) não é já a expressão do indivíduo mas linguagem que se constitui, inesperada, a partir dum vazio, dum não-eu. Perante isto é que o modernismo da Presença (não obstante um Nemésio, um Casais Monteiro) surge, na perspetiva de hoje, como um retrocesso ou «contrarrevolução». - Se a perduração do Modernismo em modernidade reflete o agravamento duma crise de cultura (fim ou começo dum ciclo?), se esta modernidade comporta germes corrosivos, se dissocia perigosamente o artista do público (mais ainda: do povo), se demasiado copia a moda internacional, se carece por vezes duma consciência estética apta a distinguir o falacioso, o efémero, do válido e do que fica, são questões melindrosas que transcendem os limites deste artigo. Aliás, em notáveis poetas do grupo da Presença e posteriores (de Carlos Queirós a Reinaldo Ferreira e António Gedeão) deu-se uma conciliação entre modernidade e classicismo; e certa crítica atual mostra-se particularmente interessada no aspeto técnico das obras, apreciando-as em função dum conceito químico de «pureza» («poesia pura», «romance puro») que é mais um sinal da moderna tendência para desagregar. Noutros artigos se verá a posição assumida pelo Neorrealismo e se aponta a tendência para revalorizar o Saudosismo.
Coelho, Jacinto do Prado,
DICIONÁRIO DE LITERATURA, 3.ª edição,
2.º volume, Porto, Figueirinhas, 1979 |
© 2001- - Manuel Maria, associado da SPA.
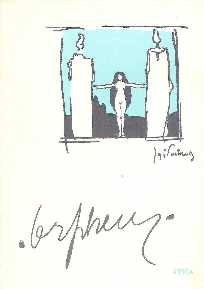 do
Brasil: o lançamento duma revista
luso-brasileira,
do
Brasil: o lançamento duma revista
luso-brasileira,  Em abril de 1916,
o suicídio de Sá-Carneiro privou o grupo dum
dos seus grandes valores. Entretanto, a
geração modernista continuou a manifestar-se,
quer em publicações individuais, quer através
de outras revistas: Exílio (1916), com
um só número, onde
Em abril de 1916,
o suicídio de Sá-Carneiro privou o grupo dum
dos seus grandes valores. Entretanto, a
geração modernista continuou a manifestar-se,
quer em publicações individuais, quer através
de outras revistas: Exílio (1916), com
um só número, onde 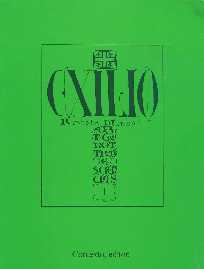
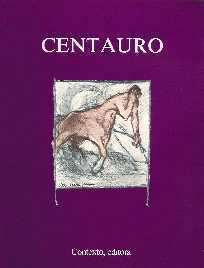 Montalvor proclama: «Somos os decadentes do
Século da decadência [...] Só a beleza nos
interessa». O próprio
Montalvor proclama: «Somos os decadentes do
Século da decadência [...] Só a beleza nos
interessa». O próprio